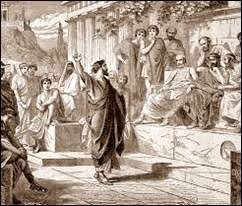por Osvaldo Duarte
Considerado o mais astuto dos mortais e o mais inescrupuloso, Sísifo, filho de Éolo da raça de Deucalião, foi fundador de Corinto. Sua lenda é constituída de várias histórias de astúcias, mas o que nos interessa aqui é o recorte de uma das versões do mito que faz alusão ao seu sofrimento:

Quando Zeus raptou Egina, filha de Asopo, para levá-la a Enone, passou por Corinto e Sísifo viu-o. Sabendo que procurava sua filha, Sísifo foi ter com Asopo, prometendo relevar-lhe o nome do raptor se o mesmo fizesse brotar uma nascente na cidade de Corinto. Asopo assentiu, e Sísifo denunciou Zeus. Esse episódio atraiu sobre o delator a cólera do senhor dos deuses. Zeus o fulminou de imediato e o precipitou nos Infernos. Sísifo teve como castigo rolar um enorme rochedo na subida de uma vertente. Mal o rochedo atingia o cimo, voltava a cair por causa do seu próprio peso e o trabalho de Sísifo tinha de recomeçar, ad aeterno.
Muitas vezes nos cansamos da mesmice que a vida nos impõe. Dia após dia, assim como Sísifo, fazemos as mesmas coisas: rolamos nosso rochedo morro acima - choramos, reclamamos, labutamos e nos enfastiamos, mas sempre firmes empurrando o nosso rochedo, acreditando que o amanhã será diferente. Viver é para os fortes, os fracos sucumbem.
“Até quando aguentaremos sempre o mesmo? Nunca faremos outra coisa senão acordar e adormecer, comer e sentir fome, ter frio e calor?! Coisa alguma tem um termo, está tudo urdido em círculo, tudo se sucede alternadamente sem parar: a noite põe termo ao dia, e o dia à noite, o verão vai findar no outono, ao outono segue-se o inverno, que por seu turno é destronado pela primavera; tudo passa para regressar novamente. Não realizamos nada de novo: e aqui reside por vezes a causa da náusea!”
Sêneca
“... Examina os dramas e as cenas que conheces por tua experiência pessoal ou pela história antiga, coloca diante dos teus olhos toda corte de Adriano, Augusto, Felipe, Alexandre e Creso, por exemplo. Todos esses espetáculos se assemelhavam, os atores é que eram outros.”
Marco Aurélio
Se o estoicismo nos mostra essa condição de impotência diante da vida, também nos ensina como lidar com esta situação. Não basta viver (ser forte), mas viver sabiamente, isto é, conforme a natureza. Viver conforme a natureza é uma aceitação da vida que nos foi dada pelos deuses. Devemos sempre desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível, ainda que nos seja de sobremaneira penoso.
“Lembra que és tal como um ator no desempenho do papel que o autor quis proporcionar: se breve, breve, se longo, longo. Se quiser que representes um papel de mendigo, faze por representar aquela figura o
melhor que puderes; e assim se for de um manco, ou de um príncipe, ou de um plebeu, porque o teu ofício é representar bem a personagem que lhe derem, e o de escolher o papel, é de outrem.”
Epicteto
“Eu me conformo com tudo que te convém ó mundo! Para mim, nada é prematuro ou tardio, se é oportuno para ti. As tuas estações, ó natureza, para mim só produzem frutos, tudo vem de ti; tudo em ti existe; tudo para ti retorna.”
“Entrega-te de boa vontade a Cloto; deixa-a fiar a tua vida com os acontecimentos que lhe aprouver.”
Marco Aurélio
E quando tentamos mudar, isto é, representar um papel que não nos foi destinado pelos deuses, a Stoa nos adverte:
Se quiseres representar nesta vida algum personagem que exceda as tuas forças e capacidade, farás duas coisas, que isto não podes, fá-lo-á mal e indecentemente; deixarás o que poderias fazer bem e com louvor.
Epicteto
Diante do infortúnio, das adversidades, do sofrimento que a vida nos impõe, os estóicos nos ensinam a viver sabiamente - devemos encarar a dor como uma provação, um aperfeiçoamento, portanto, sejamos sábios, e, sempre manter a calma, a serenidade e não nos entregarmos às aflições, ao desespero, afinal, isso de nada adianta, pois o nosso caminho já foi traçado pelas Moiras.

Créditos:
AURÉLIO, M. Pensamentos. São Paulo, Edições Cultura, 1942.
AURÉLIO, M. Meditações. São Paulo, Editora Iluminuras, 1995.
GRIMAL, P., Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Trad. V. Jabouille. Bertrand Brasil, 2000.
EPICTETO, Manual de Epitecto: Máximas Diatribes e Aforismos. Lisboa: VEGA, 1992.
EPITÉTO, Manual de Epiteto. Trad. Frei Antonio de Souza. São Paulo: Edições Cultura, 1944.
PENSAMIENTOS. Trad. Joaquin Delgado. Buenos Aires: El Ateneo, 1945.
SÊNECA, L. A., Cartas a Lucílio. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009.
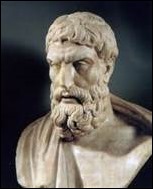 O utilitarismo já vigorava na Grécia antiga, onde o filósofo Epicuro (341.-270 a.C.) e seus sucessores sistematizaram essa doutrina que consiste em evitar a dor e procurar os prazeres moderados para atingir a sabedoria e a felicidade para o bem estar de uma comunidade. Mas foi no século XVIII que o filósofo Jeremy Bentham (1748-1832) fundiu a idéia do utilitarismo seguido pelo seu sucessor que deu continuidade nesse pensamento, tratando-se do filósofo John Stuart Mill (1806-1873). Esses filósofos agregaram em seus pensamentos o princípio da utilidade e conseguiram aplicá-lo nas questões importantes que estão consolidadas nos maiores poderes que regem uma sociedade, são eles: a justiça, a política, a economia entre outros. Em suma, a tese central do utilitarismo clássico defende que uma ação ética deve aumentar o prazer e diminuir o sofrimento.
O utilitarismo já vigorava na Grécia antiga, onde o filósofo Epicuro (341.-270 a.C.) e seus sucessores sistematizaram essa doutrina que consiste em evitar a dor e procurar os prazeres moderados para atingir a sabedoria e a felicidade para o bem estar de uma comunidade. Mas foi no século XVIII que o filósofo Jeremy Bentham (1748-1832) fundiu a idéia do utilitarismo seguido pelo seu sucessor que deu continuidade nesse pensamento, tratando-se do filósofo John Stuart Mill (1806-1873). Esses filósofos agregaram em seus pensamentos o princípio da utilidade e conseguiram aplicá-lo nas questões importantes que estão consolidadas nos maiores poderes que regem uma sociedade, são eles: a justiça, a política, a economia entre outros. Em suma, a tese central do utilitarismo clássico defende que uma ação ética deve aumentar o prazer e diminuir o sofrimento. O utilitarismo preferencial de Peter Singer tem como objetivo que o interesse de um indivíduo não deve ser maior do que o outro e os interesses desse indivíduo devem levar em conta todos os indivíduos que serão afetados pela decisão dele, ou seja, visa que uma ação ética seja adequada para todos os envolvidos na ação tomada ao longo do tempo.
O utilitarismo preferencial de Peter Singer tem como objetivo que o interesse de um indivíduo não deve ser maior do que o outro e os interesses desse indivíduo devem levar em conta todos os indivíduos que serão afetados pela decisão dele, ou seja, visa que uma ação ética seja adequada para todos os envolvidos na ação tomada ao longo do tempo. 






![clip_image002[5] clip_image002[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFYH8WiJznzvfk8tOHmqxyQ5M2TzvMM8c8PAUwj6r3XTppKdBnBW9cXZlIRjygqRAeseAQ8YDmZ2NQL1pwQofCCZlSiD8r0Ve550C8IxAjq2A519UaG-s0-alSeQNqF3JUJjOUmgfsHdJ_/?imgmax=800)
![clip_image003[5] clip_image003[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYba2QyDr39elBSLsrQCzuYUrOp8IYMJHEXgCmMiSt4jDmdin02JFtvWON9aeHApwoWo6Ps82NTpra0RKCCJRWWrgeWjuhI0sS7_ikG2sS992R99UQ7TxfMbgAAvWXprDk8oRf7LoYH-i/?imgmax=800)
![clip_image005[5] clip_image005[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKviZw4qGsjdmwmf9J0Sxg0XvTDqWdBnuwZzZBWv6ycchYxolNX3mR-3mslT0fMUPP7K3L8i2UhHdd3XaGrXFFRZCErhLpDXhV1TeJbR3-VT_wSrYRQk5jZOXf0S9ReLq7To2DqAeN1gWu/?imgmax=800)
![clip_image007[5] clip_image007[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghehhqMoGLS4eI5NEM7uNKvXuFWPC3CpvvRi0oyzNbxA0iXV7Vgqe2BLw3-kwAfdWipMQZUDtVWCjNbVyyWyhDskWSGGi8JvGXHZVbMMWwZDy50Z22UwaGaH57zGxe1b2xR3QPVx88Fp3l/?imgmax=800)
![clip_image008[5] clip_image008[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjONRCrMbolfMgx8vU0GZ4L9XtkClPg6mzxMxCrAxUdPIHvODFI025Ken_2XWQ4qEgWxguu00SgzeadvSapnXzMXBn0Iz6st7G9krLgkLDOoAoDyqRSSsWXzme3aMb5SVpSBYgcUKsX2Dsq/?imgmax=800)
![clip_image001[7] clip_image001[7]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVltGMx2zKVRlla87I5e952Q-Vw0jZoa11yiQqV5RSSWRO2VHaleI2GSqBQzYNNKruf0ay3MrONRcTZHg3uECn9qZB0c04p4j4nhwz6ZM2daeA9Yi6WJ2_X4lGmTLEj-su3C4su592wXYX/?imgmax=800)
![clip_image002[3] clip_image002[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1FnpkJ7vxJqEqRpb92VPrOJkIOU1IwL4P1zXtn0rroadt2-VvFHpLiZb4fWEMXdCoisho7ViW9rKWRjfk608nWr8_JqmHgv_wGhkmLVfkGoDmHZXJkT3GeIsRj5UGLDUlyIh23at6SV6y/?imgmax=800)
![clip_image003[3] clip_image003[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4dC-OhC38ZiB4OoTiQzLxBMhX-EfKw9_wNraZq36NK6YpdNA-hU7-qzy2tL4N_mQP5ZZp6aCvDQayIYEFIIJoZS4pWYwg69DCNLXkRMDL_hxkZ_XlncbWeD8dexYT19iiL3DBcis3wQyN/?imgmax=800)