por Osvaldo Duarte
O que entendemos hoje por felicidade (eudaimonía) é bem diverso do que os antigos gregos a entendiam como tal. Com efeito, a felicidade para nós hoje é apenas um decalque do que era a felicidade para os gregos. O conceito grego de felicidade, ao menos para os filósofos, estava ligado ao conceito de virtude ou excelência (aretê).
Demócrito servia-se de vários termos para designar a felicidade, sendo que para ele, felicidade era algo interno, da alma, e não se encontrava na posse de bens materiais:
A felicidade e a infelicidade são fenômenos psicológicos.
A felicidade não consiste na posse, nem de rebanhos, nem de ouro, porque a causa da felicidade reside na alma.
As forças físicas e as riquezas não dão a felicidade, que só é dada pelo caráter e pela sabedoria.
Trad. P. Gomes
Para Platão, ser feliz é viver bem e ser justo.
Logo, a alma justa e o homem justo viverão bem, e o injusto mal.
Mas sem dúvida o que vive bem é feliz e venturoso, o que não vive bem, inversamente.
Logo, o homem justo é feliz, e o injusto é desgraçado.
Contudo, não há vantagem em ser desgraçado, mas sim em ser feliz.
Trad. M.H.R.Pereira
... para os deuses a vida mais agradável * é também a mais justa.
Trad. C.A.Nunes
Aristóteles considerava a felicidade como excelência da ação contemplativa.
A felicidade como fim último de todas as ações humanas, e tem como sentido “o melhor de tudo”. A felicidade é o supremo bem prático.
O estagirita distribui os bens em três classes, a saber:
Bens exteriores, por outro lado, os bens que dizem respeito à alma humana e, por último, os do corpo próprio.
Os bens que concernem à alma humana são os mais autênticos e os mais extremos. Mas a felicidade são as ações e o exercício das atividades concernentes à alma humana. Quem é feliz vive bem e age bem.
A felicidade é então o bem supremo, o que há de mais esplendoroso e o que dá um prazer extremo.
A felicidade é uma atividade de acordo com a excelência e da melhor parte do humano, essa atividade é, segundo Aristóteles, contemplativa.
Nós pensamos também que a felicidade tem de estar misturada com o prazer, porque a mais agradável de todas as atividades que se produzem de acordo com a excelência é unanimemente aclamada como a que existe de acordo com a sabedoria. Parece, então, pois que a filosofia possui a possibilidade de prazer mais maravilhosa que há em pureza e estabilidade...
Enquanto humanos, temos necessidades vitais, mas uma vez suprida essas necessidades, o sábio se volta para a contemplação, o que possibilita a sua independência auto-suficiente.
O sábio é capaz de criar uma situação contemplativa sozinho apenas a partir de si próprio e em si próprio, e quanto mais sábio for mais facilmente o consegue fazer.
Trad. A. C. Caeiro
Léon Robin define a felicidade grega como algo parecido com a “boa sorte” atribuída por uma graça divina; há um daimon que acompanha homem grego por toda vida como guardião da sua sorte, seguindo-o até o Juízo.
Platão, na República, recupera, em parte, este mito através de Er.
Para os gregos, a felicidade se dava numa completa realização da natureza humana. A essência da moralidade como fim último tanto na obtenção como na manutenção da felicidade.
* Agradável entenda como feliz.
Créditos
ARISTÓTELES, Ética a Nicómano. Trad. António de Castro Caeiro. Lisboa: Quetzal Editores, 2012.
PLATÃO. A República. Trad. Maria H. da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
. Leis, vol. XII-XIII. Trad. Carlos Alberto Nunes. Pará, Universidade Federal do Pará, 1980.
ROBIN, L., A Moral Antiga. Porto: Edições Despertar, [19??]




![clip_image001[4] clip_image001[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYD1_BeLkqAQNjtghyaKPg3SMwdI2DiiT3dFwNWzf9TbDkEcF5CVyK4ibaEvwNTz0Fl-IQ2Rj6_EXoJdouUYZCbV8hKdbICLaIwp56-U3_Vsm8sCqZqo-G1el3bOsfA4AIhZ8zEj217LE/?imgmax=800)







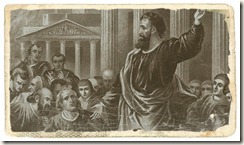



![clip_image002[1] clip_image002[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11A7jPreKuLIcHv5owJd9Y8qJmuMHEMYj3fQB9q97qxcH2v1qnX2518ZLJBVG-TJOmMVaSYZBXRYkOQSJw6SfoNea0oZ5Cym-eV1peMro_81V8ithQXsTe48w6VAOqIgLCnohbalamZ0/?imgmax=800)
![clip_image004[1] clip_image004[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbsMZzTQVlxDPrREbeA_-OoeQ1BXczlLzmuhdgawczfzfdIJUIw-xx5y8HUL0Vrl2P7tyVJYTmeQ_baxNyHUI9yIyP_YoAeEFABNZqUl1-DkuKJ3IhSvA6alIO7SFIFSwN6K6lzh1yHRk/?imgmax=800)
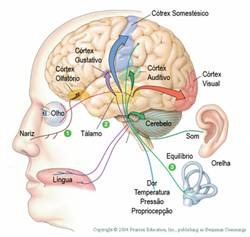
![clip_image001[1] clip_image001[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig7OxWojxrQGIelquOCGPghXuWTqupKaDH9F683zOy7fQHq0NKsfXcH6CSsl3KeKgVE7ods8MmjpNOZQpdjeOTR_fNX2vjjtTAkRWC55bO-nzv_0IKQAqhbtu9vMBh4fNk8sGBQ0ecn0s/?imgmax=800)


![clip_image002[29] clip_image002[29]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_UQlwZjBIRJeMjV61M64zR3N3gAIKvesbfhR74lFL75sI7SQDr6cbKwgR6P3ozuKHZAi28GVF0NM_bHRo9d7CMLLYEULP7MA54BhMPNp8SYp5VgquTIfDCE8Bet0789trH6fZ80CcwQI/?imgmax=800)
