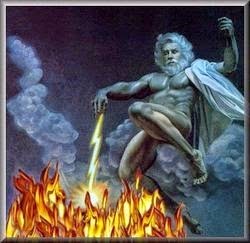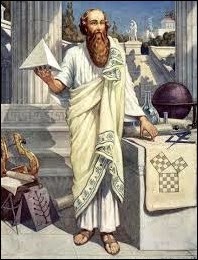Pansophia

segunda-feira, 24 de agosto de 2015
A informação na formação moral humana – Sêneca
domingo, 21 de junho de 2015
O pensamento de Hípon
por Leandro Morena
Pouco se sabe da vida do filósofo grego Hípon, mas provavelmente foi no final do século V a.C. que esteve em atividade. O próprio filósofo Aristóteles (385 a.C.- 322 a.C.) considerava-o como um filósofo de pensamento medíocre. Apenas poucos fragmentos sobraram dos seus escritos, mas o bastante para inseri-lo na história da filosofia como um pensador e tanto.
Na mesma linha do pensamento de Tales de Mileto (624 a.C.- 546 a.C.), Hípon acredita que tudo tem origem da água, o próprio fogo provém da água. Embasado nisso, o filósofo cria uma argumentação acerca do úmido/seco. Segundo o filósofo, a umidade tem como o princípio a água, por sua vez, o calor vive da umidade, referindo-se a todas as criaturas vivas, as sementes e a própria comida, pois a degustação dela torna-se boa por ter umidade. As coisas mortas são ressecadas justamente pela falta da umidade.
Para explicar a saúde do corpo, Hípon baseia-se na própria dicotomia úmido/seco, e analisa que somos possuidor de uma umidade que se adapta bem, gerando algo benéfico, segundo Barnes, a capacidade de perceber e em razão da nossa existência. Quando a umidade encontra-se num nível demasiado bom, o ente, por sua vez, é saudável, caso contrário, quando ocorrer um desequilíbrio na umidade, gera o ressecamento e com isso perece. Hípon afirma que os homens idosos faltam-lhes umidade, por esse motivo são secos e a percepção deles é comprometida por esta falta.
Em outro fragmento, o filósofo afirma que a umidade pode sofrer alterações que podem levar a um desequilíbrio, ou seja, quando ocorrer excesso de frio, ou excesso de calor, acaba gerando as enfermidades, ele não especifica quais são essas enfermidades. De um modo geral, tem que existir o equilíbrio no frio e no calor para que a umidade possa ser benéfica ao ente.
Observamos que tudo que faz parte da natureza tem que ter um equilíbrio, o corpo humano e dos animais, as plantas, o ar, o fogo, a água, um pequeno desequilíbrio gera uma condição negativa de proporções catastróficas.
A meu ver, o pensamento de Hípon foi uma “fagulha” para o desenvolvimento da lógica, embora seja com Aristóteles que a lógica fosse disseminada, aqui podemos observar que Hípon criou um “Sistema Dicotômico” que serviu de base para os filósofos posteriores.
Créditos: Obra consultada
BARNES, Jonathan. Filósofos Pré-Socráticos. Trad. Julio Fischer. Ed. Martins Fontes, São Paulo, 2003.
quinta-feira, 9 de abril de 2015
O Sistema Planetário na visão do filósofo Filolau (470 a.C.-385 a. C.)
por Leandro Morena
Filolau de Crotona (Φιλόλαος), filósofo grego, foi um grande seguidor do pensamento pitagórico. Segundo consta, é atribuído a ele escrever sobre a doutrina pitagórica,, ao qual conseguiu sobreviver à contemporaneidade e os historiógrafos afirmam que o pensamento platônico foi influenciado por essas escritas.
Filolau foi um dos primeiros pensadores que afirmou que a Terra não é o centro do universo e a própria movimenta-se ao redor de um fogo que se situa na parte central, esse centro é como se fosse uma potência demiúrgica, pois é desse centro que cria-se a vivacidade para a Terra, no qual muitos acreditavam, inclusive Filolau, de ser a moradia do supremo, a divindade Zeus. O Fogo Central não se trata do Sol, mas sim de um fogo que não podia ser visto redundante, pois estava do lado oposto a Terra, pois segundo Filolau, aparecia nas regiões mediterrâneas onde não era habitado e por isso o povo grego nunca conseguia vê-lo. Entre o Fogo Central e a Terra, existe um planeta paralelo, invisível, que Filolau alcunhou de Antiterra.
Para o discípulo de Pitágoras a Terra tinha uma órbita de 24 horas em torno do Fogo Central, e sempre volta à face para o exterior, o lado oposto, por isso a dificuldade de observar esse fenômeno. Já as órbitas do Sol e da Lua e dos cinco corpos celestes, a saber: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, estavam bem mais distantes, estes, por sua vez, eram chamados de “astros vagabundos”, pós esses corpos celestes, seguiam-se as estrelas fixas, um fogo que seria externo e, por fim, o infinito.
Filolau explica como ocorre a luz do Sol, este é iluminado pela luz do fogo externo, e com isso ilumina todo universo visível; já a Lua recebia a luz do Sol, e o brilho dela é prateado, e isso se deve ao reflexo do Fogo Central. Com essa teoria, ele explicou porque os eclipses lunares eram mais habituais que os eclipses solares, pois concebe como a sombra da Terra projetada na Lua e a sombra do planeta Antiterra.
O Sistema Planetário de Filolau foi composto por dez corpos celestes, uma analogia ao número 10 que é considerado um número místico/divino para os pitagóricos, no qual, denomina-se a perfeição (ver o artigo: O pensamento Pitagórico: Os Números).
Créditos/Obras Consultadas:
MONDOLFO, Rodolfo. O pensamento Antigo. Trad. Lívio Teixeira. Ed. Mestre Jou, São Paulo, 1964.
Coleção: A descoberta do mundo vol.I. editor: Victor Civita. Editora Abril, São Paulo, 1971.
terça-feira, 17 de março de 2015
Sêneca, uma breve notícia
por Leandro Morena
Lúcio Aneu Sêneca (4 a.C.- 65 d.C.), filósofo romano, filho de uma família ilustre da época. Quando criança foi estudar em Roma onde aprendeu retórica ligada à filosofia. Seus estudos eram rigorosos e com isso causou um problema de saúde e por esse motivo foi passar algum tempo no Egito, voltando a Roma no ano de 31. Ingressou na carreira de advogado e orador e entrou para o senado romano. Na política o filósofo romano atingiu o ápice e com esse fato causou uma certa inveja no imperador Calígula(12-41),e este pretendeu assassinar Sêneca, mas a salvação é que a saúde dele estava frágil, pois acreditava-se que ele morreria logo. Calígula foi quem morrera rápido, e com isso o filósofo pôde viver tranquilamente. No ano de 41, no entanto, foi acusado pela esposa do imperador Claúdio (10 a.C.- 54 d.C.) de ter cometido adultério com a sobrinha do mesmo, Sêneca viu-se numa situação ruim e foi para o exílio para a Córsega onde levou uma vida restrita. No ano de 49 a esposa de Cláudio que acusara Sêneca viu-se em desgraça e condenada à morte, e com isso, o imperador Cláudio veio casar-se com Agripina e através desta nova esposa do imperador, mandou chamar de volta Sêneca para educar o seu filho Nero (37-68). No ano de 54 Nero torna-se imperador e o filósofo foi seu grande conselheiro. No ano de 62 Sêneca já não agradava mais o imperador e no ano de 65 o próprio obriga o filósofo cometer suicídio.
Na filosofia, Sêneca adotara elementos epicuristas com ideias estoicistas e isso pode ser observado na obra As Cartas Morais de Sêneca. Escreveu doze ensaios morais além de escrever nove tragédias. Fez duras críticas e satiriza o comportamento vulgar da sociedade naquela época.
Créditos/Obras consultadas:
EPICURO, SÊNECA e outros. Os Pensadores.Traduções:Agostinho da Silva, Amador Cisneiros e e outros. Ed. Abril, São Paulo, 1980.
segunda-feira, 16 de fevereiro de 2015
Democracia Republicana - Montesquieu
quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015
Brasil: “Só por cima do meu cadáver”
por Osvaldo Duarte
“A virtude política é a mola que faz mover o governo”
É próprio da filosofia trabalhar com conceitos universais, o que não nos impede da utilização de exemplos particulares para ilustrar melhor a nossa exposição.
Esclarecemos que, não se trata aqui de levantar bandeiras “do contra ou a favor”, mas de tão-somente abordar o direito ao amparo da lei que todas as camadas (principalmente as minoritárias) da sociedade têm, ou que pelo menos deveria tê-lo! Isso independe se as mesmas têm muita ou pouca representatividade no Congresso ou Câmara, pois acreditamos viver sob um regime democrático e laico.
Recentemente aqui em nosso país observamos fato notório que, embora aplaudido por muitos, põe em risco a própria democracia, referimo-nos ao presidente da Câmara que se recusa levar ao plenário alguns temas, a saber, como a legalização do aborto e a união civil de pessoas do mesmo sexo. Ao que tudo indica, ou pelo menos o motivo que nos leva a crer, salvo engano, a recusa se deu em face das questões religiosas.
Pretendemos aqui, lembrar o conceito de virtude política, pois entendemos como conceito chave para esclarecer ao leitor menos atento, onde o deputado falha como político no cumprimento do seu dever.
Ensina-nos Montesquieu, que virtude, ao menos na República, não se trata de virtude moral ou virtude cristã, mas virtude política, o que significa o amor da Pátria e da igualdade, sendo esta virtude, a mola que faz mover o governo.
Ora, o nobre deputado está confundindo ou possivelmente desconhece tais conceitos. Em um Estado democrático e laico, a virtude política deve sempre prevalecer, independentemente da religião ou crença que o político possa ter, ainda que seus eleitores comunguem a mesma crença. Tal atitude fere o princípio da igualdade, negando aos envolvidos não só a legalização ou regulamentação dos seus direitos, como também, um debate mais abrangente e esclarecedor junto a sociedade. Se infelizmente as demais questões do mesmo naipe tiverem o mesmo fim, a igualdade será a mesma da Revolução dos Bichos.
“Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros”
George Orwell
Créditos/Obras consultadas:
MONTESQUIEU, Do Espírito das Leis;. Trad. H. Barbosa. Edições Cultura, São Paulo, 1945.
.
segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015
Deixemos isso para amanhã! – Governo - Montaigne
Ou do “eu não sabia”
por Osvaldo Duarte
“Nas ações humanas é difícil dar preceitos atinados cujo fundamento seja a razão: O acaso joga sempre um papel importante em todas elas.”
Hoje em dia é muito comum ouvir de governantes ou representantes e de toda a esfera pública a alegação de que desconheciam certos fatos que, de certa forma, influenciam sobremaneira o nosso cotidiano não apenas financeiramente, o que já é um pesado fardo, mas sobretudo nas questões éticas. Por outro lado, compreendemos e aceitamos como verossímil tal ignorância dos fatos, pois, é inaceitável, inadmissível e nada digno de um governo, independentemente do regime político, a omissão, a coadunação com a corrupção ou algum ato lesivo, dentre outros, que coloque em risco a soberania e a sobrevivência da nação.
Para ilustrar a nossa analogia, recorremos a Montaigne que, na sua obra Ensaios, através de Plutarco, nos faz recordar algumas anedotas sobre o comportamento de alguns personagens em posse de certas informações.
Assim nos narra Montaigne:
“O vício contrário à curiosidade é a indiferença, para qual me inclino por natureza, e conheci alguns homens que a levaram a tal extremo, que guardavam no bolso, sem as abrir, as cartas que tinham recebido três ou quatro dias antes.”
Prossegue o nosso filósofo:
E assim conclui o nosso autor:
“(...) quando se trata de homens que exercem funções públicas, adiar o conhecimento das notícias que recebem para não interromper a comida ou sono, parece-me falta que não tem desculpa possível. Na Roma antiga, o lugar que os senadores ocupavam na mesa era o mais acessível às pessoas que, de fora, pudessem comunicar-lhes notícias, o que era claro testemunho de que por se acharem em comidas ou banquetes, aqueles magistrados não abandonavam o governo dos negócios, e tampouco deixavam de se informar das coisas imprevistas.”
Oxalá pudesse o governo como um todo, seguir o exemplo dos senadores romanos, afinal, vivemos na era da informação.
Créditos/Obras consultadas:
MONTAIGNE, M. Ensaios, São Paulo: Otto Pierre, Editores, Ltda., 1980.
quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015
Lei divina e lei humana, uma possível dicotomia - Antígona.
terça-feira, 3 de fevereiro de 2015
O pensamento Pitagórico; Os Números
por Leandro Morena
Para Pitágoras (571 a.C.-496 a.C.) e seus discípulos, os números têm uma relevância muito importante para o pensamento filosófico, pois eles foram os primeiros que fizeram a matemática ter uma ascensão. Eles acreditavam que os princípios da matemática seriam os princípios de todas as coisas, e parecem perceber nos números, mais do que no fogo, na terra e no ar, muitas semelhanças com as coisas que existem e as que são geradas. Com esses princípios, os pitagóricos afirmavam que compreendiam a ordem e a unidade do mundo, e o número tornar-se-ia o modelo que dará origem das coisas. O conceito de número no pensamento pitagórico, expressa uma ordem dimensível que permite extinguir a ambigüidade entre significado aritmético e significado espacial.
O significado verdadeiro vai ser demonstrado na figura tetraktys (tétrada):
Essa figura representa o número 10, um triângulo que possui o 4 como lado, pois se observarmos a figura, vemos que a base possui 4, o lado esquerdo da base até o ápice contém 4, e , por sua vez, o lado direito da base ao ápice contém 4. . O número 10 era visto pelos pitagóricos como algo sacro, pois estava contido nele os quatro elementos: fogo, ar, água e terra, ou seja, 1+2+3+4 = 10.
O número é a substância das coisas, todas as oposições das coisas se diminuem a oposições entre números. A oposição fundamental das coisas com respeito à ordem dimensível que constitui a sua substância é a de limite e de ilimitado. Com o limite vai tornar a medida possível, e o ilimitado vai excluí-la. A esta oposição corresponde a oposição fundamental dos números pares e ímpares; ímpar corresponde ao limitado e o par ao infinito.Já o número 1 deriva de ambos, ou seja, é considerado par e ímpar ao mesmo tempo. Os pitagóricos afirmam que à oposição do ímpar e do par correspondem a outras nove oposições:
1. Finito/Infinito;
2. Ímpar/Par;
3. Unidade/Quantidade;
4. Direita/Esquerda;
5. Macho/Fêmea;
6. Repouso/Movimento;
7. Reta/Curva;
8. Luz/Trevas;
9. Bem/Mal;
10. Quadrado/Retângulo;
O limite, ou seja, a ordem vai ser considerada a perfeição. Em suma, tudo que se encontra do mesmo lado, na sequência dos opostos, é definido como o bom, e, por sua vez, o que se encontra do outro lado, é considerado ruim.
A luta travada pelos opostos vai ser conciliada através de um princípio de harmonia, isto é, este último como vinculo dos mesmos opostos, vai compor para eles o sentido último das coisas.
Créditos/Obras Consultadas:
MONDOLFO, Rodolfo. O pensamento Antigo. Trad. Lívio Teixeira. Ed. Mestre Jou, São Paulo, 1964.
SANTOS, José Trindade. Antes de Sócrates. Gradiva, Lisboa, 1992.
BARNES, Jonathan. Filósofos Pré-Socráticos. Trad. Julio Fischer. Ed. Martins Fontes, São Paulo, 2003.
Pré-Socráticos.Os Pensadores.Traduções:José Cavalcante de Souza e outros. Ed. Abril, São Paulo, 1978.
quinta-feira, 22 de janeiro de 2015
Uma visão ilusória da Terra – Diálogo Fédon, Platão.
por Osvaldo Duarte
No diálogo Fédon, Sócrates, na prisão, nos seus últimos instantes de vida, acreditara que a sua alma sobreviveria à morte, pois sempre vivera uma vida digna e santa dedicada à Filosofia. Enfrentou a morte com coragem, confortou e tranquilizou seus discípulos sobre sua partida, pois tinha certeza de que pela sua conduta, viveria ao lado dos deuses. É em meio a este clima que nos narra esse mito que encerra o Fédon:
“Para começar, principiou, fiquei convencido de que se a Terra é de forma esférica e está colocada no meio do céu, para não cair não precisará nem de ar nem de qualquer outra necessidade da mesma natureza (...).”
Lebrun recupera este excerto pouco lido do texto platônico. Nesse recorte o comentador atribui esta falsa percepção espacial à ignorância. Nós vivemos, isto é, habitamos um buraco aqui na Terra, mas não nos damos conta disso. A esta ignorância o professor vai se servir da palavra grega amathía, que significa não uma ignorância qualquer, mas sim, aquela ignorância acrescida de estupidez (nada saber e crer que sabe). A bem da verdade, Lebrun faz uma leitura conjugada ao Mito da Caverna, esse texto apenas complementa a sua análise.
Se nos atentarmos para o texto em questão, veremos que as palavras “indolência e fraqueza” são usadas por Sócrates para explicar o porquê da nossa imaginação. Essa indolência é uma disposição do nosso caráter, pois preferimos as aparências a enxergar o verdadeiro Sol e as estrelas como são na realidade, sequer sabíamos sobre a esfericidade da Terra. A fraqueza é uma debilidade da nossa Alma, que nos permite ser arrastado pelas paixões, preferindo os prazeres do corpo aos deleites da Alma.
Estamos acostumados a viver nessa cratera, a olhar este céu embaçado, essa terra onde as pedras e toda região que nos circunda não são perfeitas, estão corroídas, há cavernas, lamaçal e lodo por todos os lados e, ainda assim nos damos por satisfeitos.
Por não percebermos que habitamos uma dessas concavidades, imaginamos viver na superfície terrestre; falta-nos coragem para subir e contemplar o verdadeiro céu, a verdadeira luz, a verdadeira Terra.
Amantes do corpo, da fama e do dinheiro, tememos perder tais prazeres. Ousar subir à superfície seria abrir mão das nossas inclinações prazerosas.
A Alma atrelada ao corpo é fraca, e cada vez mais se submete aos apetites corpóreos; enquanto estiver presa, mais dificuldades terá em voar até a superfície. Para que consiga tal proeza terá de ser temperante, numa palavra, desprender do corpo em uma espécie de morte.
“(...) ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento puro de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo e considerar apenas a alma como as coisas são em si mesmas.”
Créditos/Obras consultadas:
LEBRUN, G. A Filosofia e sua História, Cosacnaify, 2006.
PLATÃO. Diálogos Vol. IV, Tradução. Carlos. Alberto Nunes. Pará: Univ. Fed. Pará, 1980.
PEREIRA, Isidro. Dicionário Grego-Português e Português Grego. Porto: Ed. Apostolado da Imprensa 1984.